Às vezes, fala-se do amor como se fosse um impulso para a satisfação própria, ou um simples recurso para completarmos em moldes egoístas a nossa personalidade. E não é assim: amor verdadeiro é sair de si mesmo, entregar-se. O amor traz consigo a alegria, mas é uma alegria com as raízes em forma de cruz.
Enquanto estivermos na terra e não tivermos chegado à plenitude da vida futura, não pode haver amor verdadeiro sem a experiência do sacrifício, da dor. Uma dor que se saboreia, que é amável, que é fonte de íntima alegria, mas que é dor real, porque supõe vencer o egoísmo e tomar o amor como regra de todas e cada uma de nossas ações.”
– São Josemaria Escrivá
Começo esta reflexão central contando que durante grande parte da minha juventude, a cruz, o símbolo máximo do cristianismo, não me chamava a atenção. Ela era importante, claro, mas tinha em torno de si um conceito tão fechado, uma ideia tão acabada, quase uma obviedade, que eu não me atrevia a questionar ou a avaliar a importância que ela tinha na minha vida. Ela era a cruz, com toda sua imponência, mas ainda fazia pouca diferença pra mim.
Até o retiro do meu CLJ, o 24º CLJ de Canoas.
Incrível a nitidez da lembrança daquele dia. Cantavam “Ninguém te ama como eu” em uma das capelas do Seminário Maior de Viamão, enquanto eu olhava para a cruz com um novo olhar. Com o rosto úmido pela emoção, eu buscava entender o que significava aquele gesto. Por que dizem que Ele morreu por mim? O que isso tem a ver com amor? O que eu fiz de tão grave para que alguém tenha que morrer? E que diferença fez isso tudo? O que aquilo mudava na minha vida aquele dia? A cruz era um objeto e o seu significado apenas uma teoria. Faltava a experiência humana da cruz.
A dúvida estava longe de ser um ceticismo. Era simplesmente um motivo para eu não parar de buscar. Saí daquela capela envolvido em um sentimento que a linguagem não alcança e que por isso nem me esforçarei em tentar reproduzi-lo aqui. Quem viveu sabe o que é o despertar espiritual de um CLJ.
O tempo foi passando, e ao longo do caminho, fui me aproximando da cruz. Mesmo que nunca tivesse conseguido recolocá-la em uma caixa, com seu significado pronto, sem saber, eu compreendia que a minha relação com ela se daria como em um processo. Um longo caminho de aproximação.
Minha memória me indica que comecei a compreender a morte de Jesus Cristo pelo amigo Eduardo Beilner. Quando um dia, em uma de suas palestras, ele falava sobre o amor. Não, não se referia à esposa nem aos gatos aquele dia. Estávamos em um contexto de grupo de jovens, no CLJ ou no Cenáculo de Maria. Lembro de tê-lo ouvido dizer o seguinte: que o amor não é afeto, que amor é atitude, é decisão, algo assim. E depois não sei mais se o que eu lembro é a continuação da palestra do Dudu ou a minha própria elaboração sobre tudo isso. Nunca mais parei de pensar sobre isso e de sentir este novo significado a cada dia.
O amor, portanto, é a chave que leva à compreensão da cruz.
Mas aí chegamos a um novo problema – e não menos complicado do que a incompreensão da cruz: a ignorância com relação ao amor.
Foi necessário que eu percorresse um novo caminho até que isso ficasse claro. Faltava a experiência humana do amor.
Em abril de 2010, participei do 140º Cenáculo de Maria do Vicariato de Canoas, e lá conheci a história de um dependente químico em recuperação, que fazia o retiro pela primeira vez. Este encontro mudaria para sempre a minha relação não só com a causa da dependência química, mas com o tal amor.
Depois daquele curso, me envolvi bastante com trabalhos voluntários associados à prevenção, tratamento e recuperação de dependentes químicos, e conheci um programa que apoia familiares de usuários de drogas, chamado Amor-Exigente. E isso mudaria para sempre a minha forma de ver o amor – e de ver a cruz.
O princípio básico do Amor-Exigente é que o amor entendido como romantismo, afeto, carinho ou desejo do outro, este amor não existe. O que existe é romantismo, afeto, carinho ou desejo do outro. São coisas diferentes. Não são o amor. Quem auxilia um usuário de drogas a vencer o vício e reviver precisa amá-lo de verdade. Precisa praticar com ele o mesmo amor que o Dudu já tinha conceituado lá atrás: aquele que é comportamento, compromisso, decisão, atitude. Quem tem um filho, precisa praticar o mesmo tipo de amor. Quem tem uma esposa, um esposo, namorado, mãe, pai. Todos nós somos convidados a praticar este amor.
Porque o amor de Deus e o amor vivido por Jesus aqui conosco foi exatamente este. Não lembro de passagens bíblicas em que Cristo pega alguém pela mão para fazer algo. Todas as histórias de milagre, de grande cura, de grande libertação são de pessoas que ouvem seu chamado e decidem caminhar. Deus tem por nós não um amor conivente, facilitador, mas um amor que constrói porque exige nosso melhor, nossa escolha e nossa persistência.
Mas não é fácil praticar esse amor verdadeiro sendo humano. É praticando este amor que um pai é capaz de dizer que ama o seu filho, mas não aceita o que ele faz de errado. É este amor que ama uma pessoa pelo que ela é e pode vir a ser, e não pelo que se quer que ela seja. É este amor que permite que o familiar viva as consequências de seus atos como aprendizado da vida. Não é assim que Deus nos trata também? Sua mão está sempre estendida, mas ela precisa do movimento – muitas vezes doloroso, incompreendido – de ir ao seu encontro.
Expliquei que entendi a cruz por meio do amor, mas que antes precisava entender o amor. E entendi. O amor verdadeiro é o que dá a vida para que o outro possa viver plenamente. Numa situação em que é necessária uma correção ao filho menor, o amor verdadeiro entra em cena e o repreende. O filho chora, mas o pai sabe que, embora o desleixo fosse mais fácil, a experiência de não se deixar manipular foi o mais correto a se fazer. Neste momento em que o pai sofreu, morreu um pouco pelo filho, ele praticou o amor. Morreu como o grão de trigo. E gerou vida.
E a cruz, afinal? Ela é o sinal máximo do exemplo que Jesus Cristo nos deu: foi até o fim, derramou até a última gota de sangue e morreu para nos mostrar que somente assim, morrendo por amor ao outro, é que vamos construir ambientes mais respeitosos, famílias mais saudáveis e relações de paz.
Por isso, Jesus nos salvou, afinal. Nos salvou porque nos deu a receita vital: se o grão de trigo cai na terra e não morre, nos disse ele em uma de suas parábolas, ele não produz frutos, não gera vida. E disse-nos ele em outro momento: façam isso em memória de mim.
Ele entregou seu corpo e seu sangue como prova de que dá certo. A Páscoa da Ressurreição é a prova máxima de que dá certo. É este o amor que modifica o comportamento de alguém. Um amor que faz morrer em nós o egoísmo e as relações individualistas. Um amor que nos faz reviver a trajetória da semente, que, alheia às suas razões, às suas vaidades, morre para que a vida possa brotar.
—
Este artigo é parte integrante do livro O CLJ me enganou. Para adquirir um exemplar da obra, clique aqui.
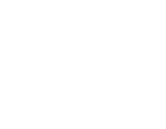







Comentários